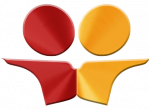Enchente de 2024 deve se repetir nos próximos 30 anos
Após 70 dias de circum-navegação, pesquisadores liderados por professor da UFRGS apresentaram dados nesta segunda (3)
Após 70 dias de circum-navegação pela costa da Antártica, os pesquisadores da UFRGS que participaram da expedição estão de volta ao Brasil com notícias pouco animadoras. As amostras de neve coletadas no Polo Sul ainda estão sendo examinadas, mas já é possível afirmar que o derretimento das geleiras está acelerado e deve aumentar de velocidade na próxima década. As consequências podem ser sentidas em Porto Alegre, a 3.600 quilômetros da Antártica, em desastres como as enchentes de maio de 2024 – e que devem passar a acontecer com mais frequência. Os dados levantados ao longo da expedição foram apresentados na manhã desta segunda-feira (3).
A principal questão que moveu os 57 pesquisadores, do Brasil e mais sete países, foi descobrir qual a contribuição do manto de gelo da Antártica para o aumento do nível do mar e como ele vai afetar as costas até o ano de 2100.
“Temos trabalhado com cenários de 28 a 110 centímetros de aumento do nível médio do mar. A Antártica, no momento, contribui com 15 milímetros por década”, afirma o professor de Geografia Polar da UFRGS que liderou a expedição, Jefferson Cardia Simões. “Todos os cenários indicam que isso vai aumentar já na próxima década”.
Entre as conclusões preliminares da exposição, os pesquisadores detectaram a formação de córregos de derretimento sobre geleiras e plataformas de gelo. Além disso, o oceano Austral apresenta redução da salinidade, ficando mais ácido, principalmente perto da crosta de gelo. Mais ao norte da Antártica, as geleiras estão derretendo com maior intensidade e observa-se o fenômeno de “esverdeamento”, que se dá pela expansão dos campos de musgos.
O climatologista Francisco Eliseu Aquino, que participou da expedição, explica que os oceanos de gelo da Antártica refletem diretamente nas cidades gaúchas, por exemplo. O temporal que ocorreu em Porto Alegre em janeiro de 2016 foi um dos primeiros casos de evento extremo que teve a Antártica como motivadora.
“A enchente de maio de 2024, assim como as de setembro e novembro de 2023, são condicionadas à intensidade de uma frente fria específica. O dia mais quente da história foi 22 de julho de 2024, graças às ondas de calor no entorno da Antártica, ou seja: a massa de gelo, no auge do inverno, não conseguiu arrefecer o planeta como sempre o fez. Por consequência, vivemos eventos extremos que se repetirão. Em 30 anos deve se repetir o maio de 2024, lamentavelmente”, afirma Aquino.

Mas existe uma questão ainda não respondida pelos pesquisadores: o quão dinamicamente estáveis são as partes do manto de gelo que têm sua base abaixo do nível do mar? Ou seja: o objetivo é descobrir como as geleiras submersas se comportam diante das variações climáticas, além dos processos de sedimentação resultantes e seus impactos.
Simões lembra que a concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera aumentou mais de 40% nos últimos 180 anos. “Se não conseguirmos segurar esse aumento em mais 20% ou 30%, ainda vamos ter um aumento de 3 graus na temperatura global. Se não conseguirmos, pode passar de 5 graus, e nesse caso não sabemos como o sistema climático vai se comportar. O clima dá saltos, e tem pontos de mudanças rápidas que podem desestabilizar todo o sistema”, afirma.
Fuligem e microplásticos
A expedição com pesquisadores da UFRGS constatou a presença de microplásticos e outros poluentes em amostras de neve da Antártica. Além disso, foi detectado um rio atmosférico – um fluxo que transporta vapor de água para fora dos trópicos – originado na amazônia e que chega até a Antártica.
“Os microplásticos são fragmentos, tanto de tecidos quanto de outros materiais plásticos, que vão se fragmentando pouco a pouco e entrando em sistemas ambientais”, explica o pesquisador Filipe Lindau. “O transporte até os oceanos ocorre em processos que podem começar com descarte próximo aos mares, ou mesmo outras fontes, como navios – sem contar o que é transportado pela atmosfera. O plástico tem um processo muito lento de degradação, podendo chegar à escala do micro, que o próprio vento consegue levar por milhares de quilômetros. Eu diria que o ar que nós respiramos neste momento provavelmente tem microplásticos”.
Já os rios atmosféricos que transportam fuligem podem ser exemplificados com o fenômeno que fez algumas cidades do RS ficarem repletas da fumaça de queimadas que aconteciam na região amazônica em setembro de 2024. Os pesquisadores vão, agora, tentar identificar a origem da fuligem encontrada na Antártica.

“A queima da madeira chega a compostos químicos muito únicos”, afirma Lindau. “Se consegue ter uma assinatura de qual tipo de vegetação queimou. O que chega na Antártica é uma concentração muito pequena, totalmente diluída, Só no laboratório, em instrumentos com resolução muito boa, vamos conseguir detectar. É importante saber o quanto as queimadas vêm se tornando um evento de relevância global. Entenderemos os impactos quando compararmos o que é observado na Antártica com outros dados climáticos”.
Presente na coletiva de imprensa em que os pesquisadores divulgaram os achados da expedição, a reitora da UFRGS Márcia Barbosa atentou para o problema das emissões de CO2. “O mundo tem que resolver essa questão, mas o Brasil é campeão de emissões com queimadas. A agricultura e a pecuária são nossas maiores fontes de emissão. Para combater isso, temos que desenvolver a agricultura de baixo carbono”, pontuou. “Existem processos científicos para isso. A UFRGS tem especialistas em como transicionar para uma agricultura menos poluente”.
A expedição

Foram 30 mil quilômetros percorridos em 70 dias de viagem numa das mais ambiciosas missões à Antártica, a Expedição Internacional de Circum-Navegação Costeira Antártica. Na equipe de 57 cientistas, 27 são brasileiros vinculados a instituições associadas ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera (INCT) e a projetos de pesquisa do Programa Antártico Brasileiro (Proantar/CNPq). Os outros pesquisadores são da Argentina, Chile, China, Índia, Peru e Rússia.
A Antártica tem um manto de gelo com espessura média de dois quilômetros. Ao redor de sua costa, há um cinturão de gelo marinho com rápida variação sazonal na espessura, chegando ao mínimo de 1,2 metros. O intuito foi chegar o mais próximo possível da costa; para isso, os pesquisadores precisaram utilizar uma embarcação quebra-gelo que conseguisse chegar o mais perto possível da costa, muitas vezes atravessando o mar congelado com até 1,5 metros de espessura.
Fonte: Bettina Gehm
Foto: Anderson Astor e Marcelo Curia